Em sua deliciosa crônica de hoje no Estadão, Luis Fernando Verissimo fala do futuro incerto que a apocrifia propiciada pelos computadores reserva ao ofício de escritor. Qualquer um com alguma habilidade em imitar estilos pode produzir um texto e atribuí-lo a outrem, pois não há mais o papel escrito na máquina de datilografia e corrigido à mão, com aqueles rabiscos e garranchos que eram a impressão digital da autoria. Não há mais os originais, como diz Verissimo. Com o computador, passou a existir apenas a versão final.
De permeio (complemento perfeito para ‘outrem’, não acham?), Verissimo lamenta a troca, nas redações, “do metralhar das máquinas de escrever pelo leve clicar dos teclados dos micros”. Alguém ainda vai elaborar um tratado sobre as conseqüências dessa substituição para o jornalismo mundial, diz, porque as redações foram transformadas, de fábricas, em claustros. E defende, “sem muita convicção”, a tese de que a mudança de ambiente afetou o caráter do jornalista. Sem a necessidade do grito para se fazer ouvir e com o distanciamento do ofício de um barulhento trabalho braçal, escreve, hoje não vale mais “a velha máxima de que jornalista era de esquerda até o nível de redator-chefe e de direita daí para cima (...). A nova direita é filha do silêncio”.
Verissimo talvez exagere nessa conclusão, porque é sabido que a maioria das redações anda entupida de petistas, mas não há como contestar que nesses hoje claustros muitos jornalistas, se não o são, agem como se fossem de direita, no sentido etimológico da palavra, com sua contenção emotiva, seu conformismo diante de ordens superiores e sua adesão bovina a causas tidas como politicamente corretas.
Sou do tempo em que se jogava futebol com bola feita de folhas de jornal na redação. E em que, entre o matraquear das máquinas e dos falatórios, se ouvia o grito “Desce!”, para chamar o contínuo e lhe entregar as laudas de texto enroladas, depois de coladas na seqüência. E se tratava mesmo de descida, porque as laudas eram jogadas pelo contínuo no buraco aberto de uma coluna no meio da redação da Folha, para irem parar um andar abaixo na mesa do chefe da oficina (que é como se chamava a gráfica), o qual as distribuía entre os linotipistas, aboletados em suas máquinas alimentadas a chumbo quente. O material assim composto era depois colocado pelos paginadores dentro de molduras (ramas) do tamanho de uma página impressa de jornal, ajustado na altura com finas placas metálicas (entrelinhas), amarrado para não haver nenhum problema no transporte e levado para uma prensa (calandra), onde se produzia a página em negativo num material chamado flan. O negativo era depois copiado para a chapa que recobria o cilindro das impressoras. A gritaria na redação, o calor infernal liberado pelas linotipos na gráfica, os paginadores transpirando em seus macacões, tudo isso aproximava o trabalho ao de uma fábrica, jamais lembrando o atual ambiente ascético, inodoro e sem graça em que são feitos os jornais. De operários, os jornalistas foram transformados em barnabés de repartição pública, e isso, forçosamente, traz alguma conseqüência ao produto que fazem. Como diz Verissimo, seria mesmo o caso de alguém escrever um tratado sobre isso.
E não me venham com essa história de que a tecnologia ajudou na agilidade da notícia. Estávamos no fechamento, ali pelas dez da noite, quando se soube que barracos rolaram pela ribanceira numa chuvarada em Santos. Convocados pela chefia, o repórter Fraterno Vieira, o fotógrafo e o motorista de caminhão lá foram, numa louca descida pelas curvas da Anchieta. Vieira viu o desastre, falou com parentes das vítimas, escreveu o texto e transmitiu o material por telex, junto com as fotos (por radiofoto), a tempo de a notícia estar na primeira página do jornal nas bancas, de manhãzinha.
Vieira agiu como todos os repórteres daquela época. Foi até o local do evento para escrever sobre o que realmente vira e ouvira, porque as entrevistas e coberturas eram feitas assim, olho no olho entre jornalistas e depoentes, não por telefone como nos dias de hoje.
É claro que a tecnologia também serviu para aprimorar o jornalismo, ao facilitar o trabalho de pesquisa. Repórteres e editores perdiam muito tempo, antes, no resgate de dados que pudessem servir de referência para o texto. Com o passar dos anos, porém, mesmo essa vantagem material vem perdendo substância, porque aproveitando as facilidades donos de jornal e seus paus-mandados passaram a exigir produções a metro. É comum um repórter ter de escrever hoje duas, três ou até mais matérias por dia. Além disso, os prazos de fechamento se tornam cada vez mais apertados, por força da concorrência. Não há qualidade que possa resistir a essa pressão do tempo.
Causa inveja aos jornalistas brasileiros o expediente avantajado das publicações estrangeiras, em especial o das revistas americanas, com o triplo ou o quádruplo de equipes de redação em comparação com as nossas. O grau de profundidade das reportagens não é portanto produto exclusivo do talento e competência dos profissionais. Tem a ver, antes, com as condições materiais disponíveis, donde se conclui que também a qualidade da imprensa depende do desenvolvimento econômico alcançado pelo país.
Tudo pesado, o que se pode dizer é que faltam elementos para afirmar se com o passar dos anos a imprensa brasileira melhorou ou piorou. Hoje como ontem, há nela excelentes profissionais. Mas de uma coisa o pessoal da velha guarda tem certeza: a de que o jornalismo da máquina de escrever era feito com mais alegria do que o do computador e, por isso, com maior tesão.
domingo, 13 de janeiro de 2008
sexta-feira, 11 de janeiro de 2008
É burro porque é pobre?
O suplemento cultural do jornal Valor de hoje aborda na reportagem de capa, assinada por Martha San Juan França, a instigante questão da evolução da inteligência humana, incluindo uma entrevista com o famoso pesquisador americano naturalizado neozelandês James Flynn, autor da tese de que o QI vem aumentando no mundo em até 20 pontos por geração de 30 anos. O chamado efeito Flynn foi comprovado em estudos feitos em diferentes países, o que também serviu para que seu formulador combatesse algumas teorias acadêmicas racistas. E, ao contrário do que o senso comum sugere, o pesquisador, hoje com 73 anos, mostrou que a evolução da inteligência e do conhecimento nas sociedades contemporâneas tem menos a ver com o ensino escolar formal e mais com a explosão de informações propiciada pela tecnologia.
Há muito tempo educadores do mundo inteiro se preocupam com os desníveis de QI dos alunos, na tentativa de encontrar um ponto médio para tornar as aulas aproveitáveis pelo maior número possível deles. Elaboraram-se assim diversos testes para a medição de habilidades cognitivas relacionadas com a inteligência, entre elas as da expressão verbal, do raciocínio lógico/matemático, do domínio espacial e do uso da memória. Mesmo esses testes, porém, vêm perdendo eficácia com o passar dos anos. Segundo Flynn explica no seu novo livro, What Is Intelligence? Beyond the Flynn Effect, ainda não traduzido no Brasil, isso se deve ao fato de que no mundo atual crescem as exigências de aplicação da chamada inteligência fluida, responsável pelo raciocínio abstrato e a resolução de problemas novos. Ou seja, tende-se a valorizar mais as habilidades para executar tarefas específicas do que as ligadas de modo genérico a um conceito mais global de inteligência.
A psicóloga Carmen Flores-Mendoza, do Laboratório de Avaliação das diferenças Individuais, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, também ouvida na reportagem, diz a esse respeito: “Os ganhos cognitivos (mostrados nos testes), portanto, podem ser de variada intensidade e diferente qualidade, dependendo da exigência presente em cada sociedade, cultura ou nação”. Segundo ainda a reportagem, a psicóloga desenvolve um trabalho com outros pesquisadores da América Latina para investigar a relação entre inteligência, rendimento escolar e riqueza das nações, a partir dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, Pisa, que mede o desempenho de alunos de 15 anos em 57 países, com o objetivo de oferecer indicadores sobre a qualidade dos sistemas educacionais. O programa, no qual o Brasil se tem saído muito mal, como seria de supor, permite avaliar basicamente o conhecimento de ciências, além da capacidade de entendimento da leitura e do domínio de noções de matemática. No quesito referente ao aproveitamento da leitura, os alunos brasileiros obtiveram a média de 396 pontos no ano 2000, contra 546 na Finlândia, 534 no Canadá e 529 na Nova Zelândia, ficando ainda abaixo de colegas latino-americanos como os mexicanos, argentinos e chilenos.
O trabalho em que Carmen se envolve, data venia, parte contudo de uma premissa equivocada. Ao relacionar níveis médios de QI da população com os de renda per capita, entendendo que quanto mais baixos os primeiros também menores são os segundos, confunde efeito com causa. É certo que conhecimentos maiores contribuem para acelerar o crescimento econômico, mas também não dá para negar que quanto mais rico o país, mais seus cidadãos têm acesso à cultura e às informações específicas geradas pelo progresso científico e tecnológico. O risco maior, o da simplificação inaceitável num trabalho acadêmico, estaria numa eventual conclusão de que povos com QI inferior se condenariam ao atraso eterno, quando existem muitos exemplos de países que deram saltos de desenvolvimento concentrando esforços na educação e no alcance de metas prioritárias. Sem contar o fato de que uma simplificação desse tipo infelicitaria Flynn e todos os outros pesquisadores sérios, que tanto têm lutado para provar que a inteligência, longe de ser um fator genético ou racial, pode ser aumentada e moldada pelo ambiente favorável.
Há muito tempo educadores do mundo inteiro se preocupam com os desníveis de QI dos alunos, na tentativa de encontrar um ponto médio para tornar as aulas aproveitáveis pelo maior número possível deles. Elaboraram-se assim diversos testes para a medição de habilidades cognitivas relacionadas com a inteligência, entre elas as da expressão verbal, do raciocínio lógico/matemático, do domínio espacial e do uso da memória. Mesmo esses testes, porém, vêm perdendo eficácia com o passar dos anos. Segundo Flynn explica no seu novo livro, What Is Intelligence? Beyond the Flynn Effect, ainda não traduzido no Brasil, isso se deve ao fato de que no mundo atual crescem as exigências de aplicação da chamada inteligência fluida, responsável pelo raciocínio abstrato e a resolução de problemas novos. Ou seja, tende-se a valorizar mais as habilidades para executar tarefas específicas do que as ligadas de modo genérico a um conceito mais global de inteligência.
A psicóloga Carmen Flores-Mendoza, do Laboratório de Avaliação das diferenças Individuais, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, também ouvida na reportagem, diz a esse respeito: “Os ganhos cognitivos (mostrados nos testes), portanto, podem ser de variada intensidade e diferente qualidade, dependendo da exigência presente em cada sociedade, cultura ou nação”. Segundo ainda a reportagem, a psicóloga desenvolve um trabalho com outros pesquisadores da América Latina para investigar a relação entre inteligência, rendimento escolar e riqueza das nações, a partir dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, Pisa, que mede o desempenho de alunos de 15 anos em 57 países, com o objetivo de oferecer indicadores sobre a qualidade dos sistemas educacionais. O programa, no qual o Brasil se tem saído muito mal, como seria de supor, permite avaliar basicamente o conhecimento de ciências, além da capacidade de entendimento da leitura e do domínio de noções de matemática. No quesito referente ao aproveitamento da leitura, os alunos brasileiros obtiveram a média de 396 pontos no ano 2000, contra 546 na Finlândia, 534 no Canadá e 529 na Nova Zelândia, ficando ainda abaixo de colegas latino-americanos como os mexicanos, argentinos e chilenos.
O trabalho em que Carmen se envolve, data venia, parte contudo de uma premissa equivocada. Ao relacionar níveis médios de QI da população com os de renda per capita, entendendo que quanto mais baixos os primeiros também menores são os segundos, confunde efeito com causa. É certo que conhecimentos maiores contribuem para acelerar o crescimento econômico, mas também não dá para negar que quanto mais rico o país, mais seus cidadãos têm acesso à cultura e às informações específicas geradas pelo progresso científico e tecnológico. O risco maior, o da simplificação inaceitável num trabalho acadêmico, estaria numa eventual conclusão de que povos com QI inferior se condenariam ao atraso eterno, quando existem muitos exemplos de países que deram saltos de desenvolvimento concentrando esforços na educação e no alcance de metas prioritárias. Sem contar o fato de que uma simplificação desse tipo infelicitaria Flynn e todos os outros pesquisadores sérios, que tanto têm lutado para provar que a inteligência, longe de ser um fator genético ou racial, pode ser aumentada e moldada pelo ambiente favorável.
Assinar:
Comentários (Atom)
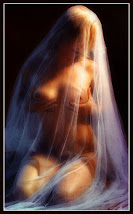.jpg)
